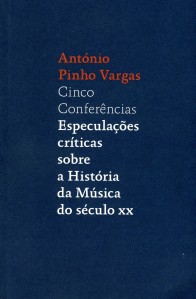 Reproduz-se abaixo, com a devida vénia, a recensão crítica de Osvaldo Manuel Silvestre sobre o livro «Cinco Conferências. Especulações Críticas sobre a História da Música no Século XX«, Lisboa, Culturgest, 2008, de António Pinho Vargas, e que fomos retirar do blogue:
Reproduz-se abaixo, com a devida vénia, a recensão crítica de Osvaldo Manuel Silvestre sobre o livro «Cinco Conferências. Especulações Críticas sobre a História da Música no Século XX«, Lisboa, Culturgest, 2008, de António Pinho Vargas, e que fomos retirar do blogue:António Pinho Vargas começou como pianista, entre o jazz de inspiração free dos anos 60-70, o jazz-rock do mesmo período, e algumas colaborações pontuais na cena pop-rock. Depois evoluiu para uma formação e uma versão de câmara do jazz moderno, algo próxima da chamada sonoridade ECM, reconhecível pela riqueza melódica, singeleza harmónica (neste livro, o autor explica a sua recusa, nessa fase, das «extensões harmónicas» típicas do jazz) e contenção improvisativa, tendo gravado uma série de discos com bom acolhimento público, vários deles premiados. A certa altura, passou para o campo da «música contemporânea», na qual foi praticando e defendendo posições «eclécticas», mas sempre com uma referência matricial à questão da atonalidade. Compôs, entre várias peças, algumas delas editadas em disco, três óperas, uma ainda muito recente e com excelente acolhimento crítico. Este livro, que é o segundo do autor, que entretanto se tornou também professor e assessor nas mais importantes instituições da vida musical do país, membro da direcção da OrchestrUtopica e, ultimamente, investigador do CES, reúne 5 conferências realizadas na Culturgest em 2005, explicadas por um subtítulo muito justo: «Especulações críticas sobre a História da Música do século XX».
O registo do volume é oral e digressivo, não raro humorado e irónico, o tom é didáctico e muito apoiado em textos e excertos de peças musicais, o desenvolvimento dos argumentos e a composição das conferências são mais nítidos e performativos nas conferências iniciais e vão-se tornando algo mais derivativos nas finais, talvez por ao longo do livro ir crescendo uma certa crispação pessimista em torno do legado da música do século XX e da sua situação actual. Não surpreende, uma vez que a música do Século XX – a Nova Música de que falava o filósofo e musicólogo alemão Adorno – é uma questão em aberto e em ferida: sem comunicação, sem público, sem um futuro que se possa rever no essencial da sua matriz e do seu legado, condenada, enfim, a ser eternamente Nova, ou seja, nunca efectivamente popular. De Adorno, Pinho Vargas refere, logo a abrir, A Filosofia da Nova Música e a sua encenação do combate entre Schoenberg, ou o progresso, e Stravinsky, ou a restauração (a reacção, melhor dito). Mas não resiste a citar, logo na p. 20, a frase inicial da sua Teoria Estética, já postumamente editada em 1970, que também não resisto a retomar: «Tornou-se manifesto que tudo o que diz respeito à arte deixou de ser evidente, tanto em si mesma como na sua relação ao todo, e até mesmo o seu direito à existência». É caso para dizer que, assim como a Filosofia da Nova Música é de facto a grande teoria estética do modernismo em todas as artes, a frase que abre a Teoria Estética aplica-se à música antes e acima de todas as outras artes, pois em nenhuma delas as consequências do modernismo foram tão radicais e, aparentemente, irreversíveis ou, se se preferir, danosas - desde logo porque tais consequências parecem funcionar, como que por necessidade, numa teleonomia que se diria inquebrável.
É certo que a perspectiva de APV é declaradamente revisionista, insistindo o autor em que as posições de Adorno (um «mestre do exagero», nas suas palavras), e sobretudo as da sequência Adorno-Boulez, devem ser historicizadas e sujeitas à crítica. Mais uma vez, na teorização contemporânea da música moderna – em rigor, na teorização dos últimos 25 anos –, é a questão do cânone moderno que acaba por ser, deste modo, colocada. Note-se que a música é a única arte, para lá da literatura, na qual uma «questão do cânone» emergiu recentemente, embora por razões muito diversas das que explicam a sua ocorrência na literatura e sem que a polémica envolva, em rigor, aquelas dimensões críticas, na esfera do político-social, que na literatura o impacto de uma nova onda de «hermenêutica da suspeita» acarretou. Por outras palavras, enquanto na literatura se caiu com grande frequência, e maior facilidade, na retórica (e na mística…) da desmistificação – a contraface necessária da emancipação, para muitos e muitas -, na música a «questão do cânone» não vai além de uma hermenêutica revisionista traduzível em novos constructos histórico-musicais (e pedagógicos: que versão da história da música moderna ensinar?) com algum alcance institucional em «programação», programas de investigação e bolsas a atribuir. Manifestamente, a natureza da música, bastante avessa a proclamações mais ou menos categóricas sobre o mundo (malgré Adorno, seria caso para dizer, e mesmo aí, com que volume de refracções, ponderações e dialectizações «negativas»…), muito ao invés do que muito erroneamente tende a suceder na literatura, a este respeito uma arte eternamente refém do programa de salvação social que a burguesia lhe confiou, faz com que a questão do cânone possua na música uma sobriedade «institucional» que uma pessoa do mundo da literatura só pode invejar. APV refere-se à questão logo na p. 27, quando afirma, em plena discussão das teses de Adorno:
Então, mais tarde, verifica-se o fenómeno da formação do cânone, aquilo que a partir de 1950 vai ser o cânone hegemónico do campo contemporâneo. Este cânone que, na minha perspectiva, deriva muito directamente das ideias de Adorno, de muitos pontos de vista, mas que é verdadeiramente constituído por um colectivo à volta de Darmstadt, com grande destaque para Pierre Boulez. Desse cânone, o Stravinsky serial não faz parte. Por isso acontece nós vermos hoje que a maior parte das peças seriais de Stravinsky não são tocadas em concerto, ou muito raramente o são. É certo que a sua instrumentação é exótica, invulgar. É frequentemente inconveniente para as instituições musicais que têm de programar.
A passagem é esclarecedora, quer quanto aos mestres dos quais procede a narrativa em pauta, quer quanto à especificidade da questão do cânone na música. Tratando-se de uma arte performativa, o cânone parece coincidir na música com o repertório, o qual, já Adorno o dizia, e com grande pertinência, se encontra hoje, e em grande medida em função da rejeição da música do século XX, numa situação de absoluta cristalização e massacrante redundância. A forma como APV coloca a questão da «instrumentação invulgar» do Stravinsky serial, aliás congruente com outras abordagens do tópico ao longo do livro, releva ainda as incidências institucionais que na música ganham fenómenos não traduzíveis facilmente para outras artes e que podem condicionar, de facto, a fortuna performativa das peças – note-se que na arte multimédia de tipo digital ocorrem hoje fenómenos equipolentes, por exemplo no difícil devir expositivo e interactivo de peças cujo hardware e software, por obsolescência acelerada, exige upgrades constantes, naturalmente dispendiosos e pouco práticos, e que além do mais colocam em causa a fidelidade da obra à sua versão originária. Um outro elemento aduzido por APV a este respeito é aquilo a que chama «o fetiche do método composicional» (p. 32), que se torna dominante a partir dos anos 50 e triunfa com Milton Babbit em Princeton, em 1964, já que aí «O compositor, para acabar o seu doutoramento, teria de apresentar duas coisas: uma peça e uma dissertação teórica sobre a peça. Este foi um momento novo da História da Música» (p. 33).
O fenómeno, note-se, não é exclusivo da música, embora tenha alcançado nesta uma dimensão institucional inexistente nas outras artes, seguramente em função da necessidade de estudo formal, e do grau de formalização desse estudo, sem par noutras artes. O poeta-crítico, como o pintor-téorico ou o arquitecto-doutrinador, são figuras conspícuas no panorama moderno e, com excepção de certos desenvolvimentos mais radicais, hoje de certo modo descontinuados no seu radicalismo – penso, no caso da poesia, em Mallarmé ou Celan -, sem a capacidade de irradiação que o referido exemplo institucional da música alcançou, seguramente a partir de exemplos fundadores como Schoenberg ou Boulez, compositores doublés de doutrinadores. Em todo o caso, e regressando à questão (inevitável) do cânone, APV não deixa de reconhecer que «cânone escolar» e «cânone da prática» são incoincidentes:
Ou seja, não há aqui sintonia entre duas realidades: o ensino, daquilo que se considera ser uma boa prática universitária, e a prática musical, no sentido daquilo que é tocado em concertos, que peças é que são feitas várias vezes, onde são feitas, etc. Estou a falar da diferença entre as peças privilegiadas no ensino da composição, são mais tocadas do que as que alimentam a proliferação do discurso analítico. As coisas não estão exactamente a par, o que aliás também é normal». (p. 33)
A normalidade desta incoincidência (que se torna francamente anormal quando saímos do estrito universo da «música do século XX» e passamos para a do «repertório clássico», já que aí o cuidadoso evitar da música do século XX pode ganhar o perfil de uma efectiva defenestração) tem tudo a ver, suponho, com o facto de que no caso da escola, quer o «controlo institucional da interpretação» - que implica sempre auto-reprodução do corpo docente -, quer a aprendizagem técnica, se fazem sobre ou a partir de um corpus que coloca os desafios teóricos e técnicos que a escola valoriza, no seu específico corte sincrónico, sobre todos os outros. Já no caso da execução do repertório em sala, as instâncias de legitimação são outras – a afluência de público, o star system musical (que faz com que o Boulez maestro seja sempre mais aceitável, ou recuperável, do que o compositor), o «gosto médio» que privilegia o primeiro Stravinsky, ou Bartók, Britten ou Chostakovitch sobre Schoenberg, Webern, etc.
Sintomaticamente, porém, ao regressar ao tópico mais adiante, APV renomeia estes dois termos - «ensino» e «prática» -, chamando ao cânone que coincide com o segundo «o cânone da performance» e ao primeiro «o cânone moderno e simbólico» (p. 74). A forma como se desliza de «ensino» para «moderno» é inteiramente esclarecedora das dificuldades do revisionismo que o autor aqui tenta pôr em prática: na primeira ocorrência APV situa a questão em sede institucional estrita, sugerindo um universo auto-regulado pela pedagogia, i.e., pela transmissão de uma doxa a necessitar urgentemente de revisão; na segunda, tudo se passa como se o cânone escolar fosse, de facto, o cânone moderno. Ora, na verdade, e como o autor noutros lugares não cessa de dizer, não é exactamente assim, pois, como o revisionismo (pós-moderno ou não: e suspendamos agora o facto de «pós-moderno» significar coisas diferentes praticamente em todas as artes) veio demonstrar, há mais modernos (muitos mais) para lá de Schoenberg (e Berg e Webern) e Stravinsky, exactamente como, apesar da abstracção, são também modernos de direito pintores figurativos como Freud, Balthus ou Bacon.
Deste ponto de vista, e como antes sugeri, o livro de APV não é tão revisionista como às vezes sentimos que gostaria de ser. É certo que APV declara que
Em primeiro lugar, o modernismo como período monolítico não existiu: ele próprio foi quebrado e dividido por fracturas. A narrativa que o constituiu como monolítico foi uma reconstrução posterior. (p. 66)
E, logo após:
Em segundo lugar, a tal narrativa hegemónica que, num dado período, era transmitida (para dizer a verdade, continua a sê-lo) via a inconsistência estilística como tipicamente pós-moderna, como tendo sido um dos resultados fundamentais do corte pós-moderno; esta descrição não corresponde à realidade, é uma leitura da realidade e, julgo, oculta o facto de a maior parte das tensões deste tipo terem já atravessado todo o século XX e não terem surgido de modo nenhum apenas a partir de 1980. Nesse sentido, é necessário elaborar outra narrativa. (id.)
É dessa «outra narrativa» que este livro nos dá apenas alguns indícios, sinais parcelares, mas não muito convincentes na sua capacidade reconstrutiva. É bem claro, ao longo da obra, que os autores de referência de APV neste trabalho de descrição e reconstrução da história da música do século XX são ainda, no pivot central, Adorno e Boulez (sobretudo nas respectivas obras maiores A Filosofia da Nova Música e Jalons). Embora APV declare a sua admiração por Charles Rosen, para o período clássico, ou por Richard Taruskin, para o moderno; embora o autor insista em que o que hoje permanece do «sistema musical e teórico» da música de vanguarda é «o prestígio de uma ideia, mais do que o prestígio de uma música» (p. 71); embora declare ainda que recusa o conceito de «música mais avançada» e a parede que teria sido atingida com Cage (p. 72); embora, por fim, nos declare enfaticamente, e com um reprimido dramatismo, «eu quero comunicar» - a verdade é que o seu livro parece ratificar, mais uma vez, o diagnóstico, aliás tão justo, que faz a pp. 72: «a música é a arte em que mais tempo durou o prestígio da ideia moderna». Ou seja: por mais que APV nos dê a ver, com rigor e minúcia exemplificativa, os bloqueios da versão canónica da narrativa da música do século XX, a sua dificuldade em produzir uma narrativa nitidamente alternativa mostra bem o prestígio da ideia em causa. Mais do que isso, na forma como se regressa, ao longo do livro, a Schoenbeg, Stravinsky e Boulez, com pontuais produções de alternativas sobretudo a partir dos anos 60, ficamos com a sensação de que não é questão apenas do prestígio de uma ideia mas também do de uma música… A título de contra-exemplo, poderia sugerir-se a forma como Bartók, um possível paradigma alternativo ao tandem Schoenberg-Stravinsky, é tão escassamente explorado no livro, o que claramente releva de uma hermenêutica histórica, muitíssimo consistente, diga-se, que não tem grande lugar para Bartók.
Não se trata, obviamente, de pôr em causa a relevância, intrínseca e extrínseca, dessa música e desses compositores (é difícil, senão inútil, contestar a Schoenberg e Stravinsky o estatuto de maiores compositores do século); trata-se, antes, de recuperar a verdade daquele inciso com que APV qualificava, em frase antes citada, o carácter hegemónico da narrativa da música moderna transmitida pela instituição musical durante um certo período: «(para dizer a verdade, continua a sê-lo)». Não é que este livro não saiba a verdade dessa hegemonia, isto é, da sua fabricação e modos de sobrevivência nas instituições; é, antes, o facto de ele dar a ver, um tanto contra si mesmo, a resistência dessa narrativa à desmistificação, talvez porque a radicalidade do abalo provocado pela Nova Música esteja muito para lá dos ganhos cognitivos produzidos pela sua «desmistificação» pós-moderna. O que talvez queira dizer que essa narrativa perdura, bem para lá da sua vigência mais paradigmática, como o fantasma fatal de todo o esforço de especulação crítica sobre a história da música do século XX.
É certo que APV usa de uma rara franqueza ao abordar os bloqueios, estéticos e institucionais, da música contemporânea; essa franqueza, porém, que o leva mesmo a conclusões de teor algo desesperado – como quando pergunta: «O que é que se passou? Porque é que a música não funciona?» (p. 192) –, não consegue deixar-nos, por vezes, senão a sensação de estarmos perante mais «notícias do bloqueio». Notícias que o autor, nos seus melhores momentos, magnificamente desdramatiza recorrendo à lição de John Cage e respondendo, às interpelações mais irrespondíveis do público, com um aparentemente singelo (e tão fecundo, porque ressoante e expansivo, em nós, leitores empenhados do seu livro) «Não sei!»
Uma coisa podemos contudo saber, de ciência certa (uma ciência derivada directamente de Cage e de Pinho Vargas): haverá sempre música e, mais ainda, haverá sempre música moderna, isto é, feita agora e exprimindo os dramas todos do agora, seja ela erudita, «popular» ou étnica, para não referir a «ecologia sonora do mundo», natural ou não. Este livro ajuda-nos a percebê-lo, na medida em que nos ajuda a perceber como a música resiste, de muitos meios e pelas vias mais inesperadas, à sua própria história - fenomenologia de que a música do próprio autor é um excelente exemplo.
É, pois, sobre tudo isto, ou seja, sobre a trama desta história tão complicada e agónica que parece suscitar em muita gente o desejo de deitar fora o bebé com a água do banho, esquecendo a grande música que o século XX produziu, que Pinho Vargas longamente reflecte, num livro que faltava em Portugal e que passa agora a poder funcionar como uma «introdução desenvolvida» – uma peregrinação ou breviário – a um continente que muito pouca gente deseja infelizmente conhecer.
António Pinho Vargas, Cinco Conferências. Especulações Críticas sobre a História da Música no Século XX, Lisboa, Culturgest, 2008. [ISBN 978-972-769-064]

