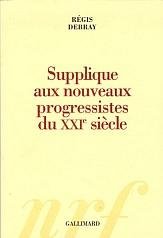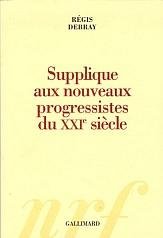
Régis Debray, escritor, filósofo e ex-guerrilheiro, companheiro de Che Guevara, lançou recentemente na Gallimard um livro com o sugestivo título «Súplica aos novos progressistas do séc. XXI»
O sociólogo Philippe Corcuff acaba de fazer publicar no jornal Le Monde uma carta aberta dirigida justamente a Debray a propósito daquele texto. É esta carta aberta que abaixo reproduzimos em tradução para português.
Caro Régis,
A tua Súplica aos novos progressistas do século XXI (edição da Gallimard) orienta-nos oportunamente para uma reflexão sobre a armadura intelectual da política num momento em que não faltam na cena mediático-política golpes baixos e manobras eleitoralistas.
Com as tragédias do século XX, e com a corrida neoliberal em vento em popa, com todos os riscos ecológicos, é tempos de re-avaliar a nossa concepção do Progresso. Tens razão quando escreves:«O século crê na História porque acreditou em Deus, e para continuar a crer, mas de uma outra maneira, depois que perdeu a fé. O que se designa de Providência na igreja, chama-se de Progresso na cidade.»
Todavia, para um agnóstico de história, não há senão lugar a progressos, no plural. Neste sentido, toda a tradição não seria, à priori, de carácter negativo, nem toda a novidade se mostraria, por si mesma, positiva.
Não se trata de acabar com as Luzes, mas antes de «renovar a ferramenta intelectual». E que não se confunda isto com qualquer relativismo pós-moderno, onde tudo vale, porque nada vale. Esboçar-se-ia assim umas Luzes mitigadas, menos arrogantes, para uma esquerda que não abandona a tripla aposta do conhecimento, da modificação de si e da transformação do mundo. Donde o teu apelo à emergência de uma «esquerda trágica», «tingida de pessimismo», bem distinta quer daquela «esquerda divina», submergida no optimismo, quer da «esquerda gestora», enredada no presente, sem memória histórica nem projecção para o futuro.
A esquerda tem certamente necessidade de se alimentar do trágico. Basta recordarmo-nos das fragilidades da acção humana face às circunstâncias que se mostram independentes da sua vontade e que, permanentemente, lhe escapam. Basta lembrarmo-nos da componente de incerteza das nossas histórias, dos nossos riscos e dos nossos desafios. Basta lançarmos um olhar sobre a condição humana, com as suas potencialidades criadores mas também destrutivas, imersa numa história com clarões emancipadores quanto inércias opressivas. Abandonemos as ilusões antropológicas do «homem bom por natureza que é pervertido pelo capitalismo». Façamos a economia da hipótese, irrealista e por vezes mortífera, do nascimento rápido de um «homem novo» que resolveria como um milagre todas as contradições das políticas de mudança. Sim, mas…
As tuas análises surgem-nos unilateralmente negras. Como se a pretensão a uma lucidez última alimentasse na tua boca a nostalgia do definitivo e do absoluto, que estariam ligados mais ao trabalho do negativo do que ao «futuro radioso». O teu auto-retrato de «navegador solitário», a remar contra-a-corrente, leva-nos directos ao rídiculo a uma pretensão de um lucidez omnisciente. Desde o teu livro «Critica da Razão Política»(1981), na qual pretendeste conhecer, graças aos teus conceitos, o enigma de toda a sociedade humana ( o seu fundamento supostamente religioso), tomaste a direcção dos filósofos-reis. Ao fazê-lo não estás a confundir rápido demais o carácter heurístico de uma analogia ( entre o religioso e o político) com uma verdade eterna? Sem dúvida que és mais convincente nas narrativas autobiográficas, quando colocas em cena as nossas deficiências face aos desregulamentos da vida política e amorosa: Les rendez-vous manqués (1975), Les masques (1988), Loués soient nos seigneurs (1996)...
E se fosse necessário recusar definitivamente a lucidez definitiva e as poses inspiradas dos que crêem ver o essencial? Interrogar, através de perspectivas sempre parciais, as sinuosidades das contingências históricas como as nossas próprias limitações individuais. Apoiando-nos em referências de tradições do passado, que funcionariam como bússolas revisíveis pelo caminho, e que valem mais que o cocktail relativista das insignificâncias pós-modernas e menos que os absolutos de antanho. Transcendências relativas, de qualquer forma.
A tua esquerda trágica» parece ter esquecido a tensão dialéctica entre o trágico e o utópico. Não serão as características parecidas da história humana, a sua abertura, os seus movimentos, a sua parte de imprevisibilidade, que dão conta da sua dupla face? Maurice Merleau-Ponty teve a intuição: « O mundo humano é um sistema aberto ou inacabado e a mesma contingência fundamental que o ameaça de discórdia o subtrai à fatalidade da desordem e impede o desespero» (Humanisme et terreur, 1947). As flores da utopia continuam a eclodir um pouco por todo o lado nos mundos confusos dos altermundismos ou, bem perto de nós, nas revoltas dos «banlieues» ou nos movimentos anti-CPE, com as suas contradições, e os seus maniqueísmos. Na tensão, pois, com o trágico. «Homem da chuva e criança do bom tempo, as vossas mãos de erros e progressos me são igualmente necessários», dizia René Char (Seuls demeurent, 1938-1944), poeta em armas no meio da resistência «maquis».
A dupla possibilidade de novos avanços emancipadores e novas regressões bárbaras jogam-se hoje em França por um fio. Num contexto menos dramático, estaremos nós, um pouco como Walter Benjamin em 1940, «ao alcance do perigo», tentando discernir no «aqui-presente» uma frágil esperança libertadora? De uma lado: a etnicização das relações sociais, protagonizada pela FN e pelo marketing anti-muçulmano de Villiers, estimulado pelas demagogias securitárias. No meio: a gestão social-liberal da precarização generalizada da UMP-PS, sobre o fundo do esgotamento das instituições da nossa democracia representativa. Do outro lado: a estrela de uma nova questão social, respeitadora das individualidades, vacilante na vitalidade dos movimentos sociais anti-liberais e com falta de tradução política. Quando os fogos cruzados da utopia anti-capitalista desafiam as mecânicas ameaçadoras do mais provável.
Que tal, Régis, uma esquerda utópica e trágica para o século XXI? O desafio é imenso, as urgências iminentes, tudo à altura das nossas fraquezas.
Philip Corcuff
(texto publicado no Le Monde, 23 de Junho de 2006)